“Internacionalização”. Essa palavra de ordem parece adornar os discursos de nove em dez representantes do ensino superior no Brasil. Fala-se em internacionalizar a pós-graduação, extensão, pesquisa, a Universidade em si. “Internacionalizar” quase aparece em pé de igualdade com outros modismos ditos importantes, autoreferrentes, como “inovação”, “transferência de tecnologia”, “empreendedorismo“, essas dinâmicas típicas do zeitgest funcional-utilitarista no qual o mundo está imerso (há tempo demais, diga-se de passagem). Da mesma forma, a internacionalização aparece como resposta para todos os problemas: falta de recursos, aprimoramento da qualidade de ensino, reconhecimento, empoderamento, liberdade… Mas, como começou tudo isso?
Bem, para começar uma problematização temos que olhar para o Norte. Só para variar (isso é ironia, ou sarcasmo? eu nunca sei…).
Desde de meados do século XX o mundo tem se tornado gradativa e reiteradamente mais desigual. Como demonstra Thomas Piketty, não apenas as classes abastadas estão ficando exageradamente ricas, como países ditos desenvolvidos estão se distanciando da enorme periferia em diversos indicadores, como segurança pública, serviços essenciais, níveis de renda, acúmulo de capital, produtividade etc. Notadamente, Japão, EUA/Canadá e Europa concentraram a grande maior parte de toda riqueza produzida no mundo nas últimas décadas, atraindo como um vórtex praticamente todo esforço mundial de trabalho, deixando apenas migalhas para trás.
Esse enriquecimento se deu, de um lado, como um fluxo de mercadorias do Sul global para o Norte rico. Um processo que envolve valores de uso, como matérias primas, serviços e tecnologias, mas também valores de troca, como dividendos e lucros financeiros, resultando na percepção de que o resto do mundo vem se tornando cada vez menos custoso, mais barato e acessível, para quem vem do Norte. De outro lado, houve também uma concentração de força de trabalho super qualificada nos países centrais. Em suas tentativas de se desenvolver, os países do Sul fizeram vultuosos investimentos e enormes esforços para formar de mão de obra. O problema é que muita dessa massa de trabalho mais custosa (e mais produtiva) terminou emigrando para o Norte em busca de melhor qualidade de vida, maiores salários e complemento de formação. Isso no esporte, na prestação de serviços especializados, nas engenharias, assim como também no meio acadêmico, entre outros.
Quanto mais a disparidade de renda se intensificou, maior foi a fuga de cérebros do Sul para o Norte.
Pois bem, com efeito, as universidades do Norte rico foram se consolidando como espaços cada vez mais diversos, à medida em que as turmas se formavam mais e mais “internacionais”. Tanto na pós-graduação, como na graduação. Essa afluência de profissionais em busca de complemento de formação no Norte representou uma dupla vantagem para aqueles países: reforço de mão de obra, tanto barateando como qualificando o estoque de capital humano à disponibilidade de empresas e governos; fluxo de recursos para a indústria da educação, um dos setores de serviços mais lucrativos e com maior crescimento relativo nas últimas décadas, exacerbando as transferências líquidas dos países pobres para os ricos.
Nesse ínterim, rankings internacionais de mensuração de qualidade do ensino superior (obviamente radicados no Norte) então concluíram que o grau de internacionalização seria um bom indicador para avaliar as instituições, outorgando assim um grande peso para essa rubrica em seus modelos de análise. Rankings como Times Higher Education (THE), QS World University, US News, por exemplo, dão grande ênfase à internacionalização, como uma forma de demonstrar que a atração de estrangeiros indicaria maior diversidade de pensamento, percepção de importância e capacidade de circulação de ideias.
Não por acaso, esses rankings tem a peculiar característica de enfatizar parâmetros que privilegiam o posicionamento das universidades do Norte, sendo o item “internacionalização” um exemplo muito interessante. Em verdade, as Universidades do Norte talvez sejam mais internacionalizadas, primeiro porque os países ricos atraem mais emigrantes em busca de melhores oportunidades, segundo porque o fluxo de profissionais e estudantes entre fronteiras dos países ricos (Norte-Norte) é não apenas permitida, como incentivada; não necessariamente porque aquelas instituições sejam efetivamente melhores. Por extensão, países periféricos, dos quais muitos cidadãos desejam escapar dos problemas, obviamente atraem menos estrangeiros. Assim, tanto as universidades do Norte são consideradas “melhores” por decorrência de um fator que não compete à sua eficácia, como as universidades do Sul são piores avaliadas graças a uma dinâmico estrutural que não diz respeito a sua alçada de decisão. É uma medida injusta, para dizer o mínimo.
Claro, as universidades do Sul global desejam ser respeitadas. Muitas delas são instituições seculares, tendo formado mentes brilhantes, contribuído para talhar grandes realizadoras e realizadores, desenvolver inovações e tecnologias de fronteira, assim como se mostrando capaz de suprir o mercado com profissionais muito competentes, até com trânsito internacional praticamente garantido. No intuito de buscar reconhecimento, porém, os parâmetros do Norte têm sido decantados como inspiração para reestruturação de suas políticas, mesmo se compreendendo que tais parâmetros foram forjados para privilegiar as universidades forâneas. É o caso da corrida pela “internacionalização” que as universidades brasileiras parecem ter abraçado.
Nesse contexto, algumas dúvidas surgem e, penso eu, não deveriam ser ignoradas.
Primeiro, por que “internacionalização” é quase sempre interpretada, na prática, como “norte-americanização” ou “europeização”?
O mundo é grande, mas nossa “ciência” parece presa no “internacional” do Atlântico Norte. Não raro, acordos e convênios com universidades do Norte são celebrados como grandes feitos. Pesquisadores que mantém laços com estrangeiros de instituições radicadas em países dominantes ganham status diferenciado. Cursos e programas capazes de publicar “lá fora” nas revistas pertencentes a companhias editoras (que cobram pela publicação, mantém papers escondidos em preços caríssimos de assinatura e exigem verdadeiros malabarismos para que ajustemos inclusive nosso modo de pensar às suas práticas) são admirados e bem recompensados com dinheiro, interesse e prestígio.
É constrangedora a pouquíssima atenção dada pela universidade brasileira às instituições dos países vizinhos. Ecuador, Paraguay, Bolívia, Peru, países próximos, são praticamente ignorados; a África sequer é mencionada (talvez, com exceção para uma Universidade criada com o intuito de estabelecer essa ponte, a Unilab, mais alguns grupos de pesquisa dedicados ao estudo da diáspora africana). Ninguém parece considerar que estudantes latino-americanos e africanos são internacionais; mais, são internacionais que efetivamente podem demandar participação em nossas instituições e, assim, as enriquecer com suas vivências, opiniões, referências e modos de pensar.
Interessante como a língua franca da ciência brasileira é o inglês, mesmo que a quarta língua estrangeira mais falada no mundo circunde o nosso país de norte a sul.
Segundo, por que é tão importante “projetar internacionalmente” nossa ciência?
Uma característica da ciência no Norte, que aparecem nos relatos dos pesquisadores que para lá se deslocam, é que o Norte está preocupado com suas próprias questões práticas, políticas e teóricas. O pesquisador que sai daqui tem uma capacidade muito limitada de levar sua própria problemática, a não se que ela represente uma confirmação, espelho ou oportunidade para os interesses particulares dos países do Norte. Eles têm brasilianistas, mas nos interpretam a partir de uma posição de metrópole. Desejam conhecer nossa biodiversidade, para que sejam capazes de desenvolver compostos que serão patenteados e explorados por suas empresas. Até parecem interessados em nossa cultura, como seus naturalistas clássicos se interessavam pelos selvagens no século XIX. Essa valoração interessada, diga-se de passagem, aparece tanto na pesquisa crítica como nas abordagens mainstream.
Para publicar lá fora, sequer a maneira como estruturamos nosso argumento é válida. Um paper publicável num journal de renome tem que ser construído segundo uma estrutura pré-estabelecida, perseguir uma lógica linear, usar sentenças diretas e objetivas, ser empírico (não, eles não querem nossa teoria, nossa filosofia, pois já se bastam). Isso enquanto, aqui, entre nós, julgamos a qualidade de um trabalho pela quantidade de referências internacionais (aka: do Norte), por ser capaz de ir parar num periódico com alto fator de impacto. Inclusive, é interessante notar, o “fator de impacto” é uma medida da capacidade de um paper ser citado por outros. Mas os fatores de impacto mensurados no Norte revelam a circulação daqueles papers, bem, nos journals do Norte; em outras palavras, quando um autor brasileiro publica num periódico de grande impacto segundo a métrica dos grandes conglomerados editoriais, tem um impacto limitado na pesquisa nacional.
Uma “ciência” na qual até nossos críticos estão requentando saberes da Casa Grande, forçando questões estranhas em modelos tão adequados como roupas 10 números a menos, tudo em nome da internacionalização, não me parece muito lógica.
É só isso que queremos, afinal, sambar conforme a valsa dos brancos ricos em troca de migalhas de atenção?
Deve ser cômico, da perspectiva de quem olha do Norte, da tal Universidade que tentamos espelhar, ficar nos observando aqui enquanto os imitamos em seus trejeitos, temas, referências e modos de pensar. Fazemos tudo mais ou menos parecido: a aula expositiva, a eulogia dos iluminados, a apologia do texto, a banca, as listas de títulos para introduzir um membro (com ênfase nas internacionalidades), o paper, a tese etc. Como num teatro do absurdo, exagerada e atabalhoadamente, um pouco sem jeito, pronunciando errado “criativamente” os nomes de autores e termos em inglês, tudo isso com sérias limitações orçamentárias, computadores inoperantes, faltando pedaços de pintura no teto e algumas carteiras quebradas. Deve ser cômico mesmo, mas eu duvido que percam tempo nos observando.
Outra oportunidade de pastelão pode ser conversar com um (pretenso) “scholar” brasileiro, ao menos se esse expediente não fosse algo tão constrangedor. O dito Acadêmico vai certamente te dizer que está “olhando para Harvard, Cambridge, Nanterre, não para o que fazem aqui.” Nenhuma daqueles enxerga seu trabalho, exceto talvez com a condescendência patronal de quem assiste, com curiosidade dividida entre o tiktok e a TV, um Golden fazer firula para ganhar atenção, ou um biscoito. Eles, o Norte, não se importam. Se pensássemos ou não pensássemos talvez sequer notassem. Ao tentar jogar o jogo da academia deles, nos termos deles, sempre nos encontraremos em desvantagem.
Esse é o sentido prático que assume a internacionalização da Universidade da forma como usualmente tem sido perseguida por aí: um processo de imitação (temos um conceito acadêmico para isso, “isomorfismo institucional”) onde assimila-se de maneira acrítica e subalterna todo um dispositivo de atuação que, no fim das contas, tem efeitos mais negativos que positivos (temos outros dois termos para isso, “colonialidade acadêmica” e “dependência simbólica”).
O “isomorfismo institucional” e a tendência de uma organização ou institucionalidade em copiar práticas, meios de avaliação e controle de outra considerada superior, com intuito de se revestir de legitimidade e participação. A “dependência simbólica”, por sua vez, corresponde a condição na qual um indivíduo, grupo ou organização tem dificuldades em enxergar uma dada realidade, exceto por meio das lentes, conceitos e diapasão de um grupo de/no poder. Enquanto que “colonialidade acadêmica” é a situação em que uma dada estrutura de pensamento e educação formal, erguida à imagem e semelhança da metrópole, assume como mais desejáveis práticas e costumes que a mantém numa posição subalterna; mesmo que a dominação colonial tenha se extinguido. Esses três processos associados dão o tom, pode-se dizer, da questão da universidade brasileira sob a ótica de internacionalização: isomorfismo, dependência simbólica e colonialidade acadêmica.
Mas, o que fazer então? Que tipo de academia (ou ciência) precisamos para nos decolonizar?
Vou ser muito sincero, como membro e produto desse processo secular: não sei.
Mas já que temos que passar à proposição, que tal começar invertendo a lógica da avaliação do quanti (do impacto medido pelo número de citações) para o quali? Que tal um ranking que leve em consideração a contribuição potencial em termos de respostas para nossos problemas concretos, nacionais? Que tal fomentar outra temporalidade de produção, para além da imediaticidade da publicação mais recente, no sentido de privilegiar uma pesquisa melhor depurada e decantada? Que tal, no lugar de uma ciência vira-latas, um campo ativo e altivo?
Ou dito de outra forma, sendo o Brasil o país continental e diverso que é, talvez fosse mais rico integrar e estabelecer pontes entre nós, entre nossos vizinhos próximos (com quem compartilhamos fronteiras, florestas, qualidade do ar e legados da colonização), do que ficar corroendo nossos poucos recursos para marcar constrangedora presença nas margens do “internacional” metropolitano. Nossos vizinhos compartilham de muitas de nossas preocupações concretas, com quem vivemos problemas históricos paralelos, cujas nações se tocam objetivamente, cujos povos remontam às comunidades pré-invasões ibéricas em costumes, linguagem e tez. Talvez nos tornássemos capazes de encontrar soluções conjuntas para problemas em comum, num esforço de autonomia para constituir um caminho novo para saberes, filosofias, estética, ciência com valor local, de nosso domínio, enfim, para uma existência para além da ocidentalidade tóxica e o vira-latismo pueril que nos aflige desde 1500.
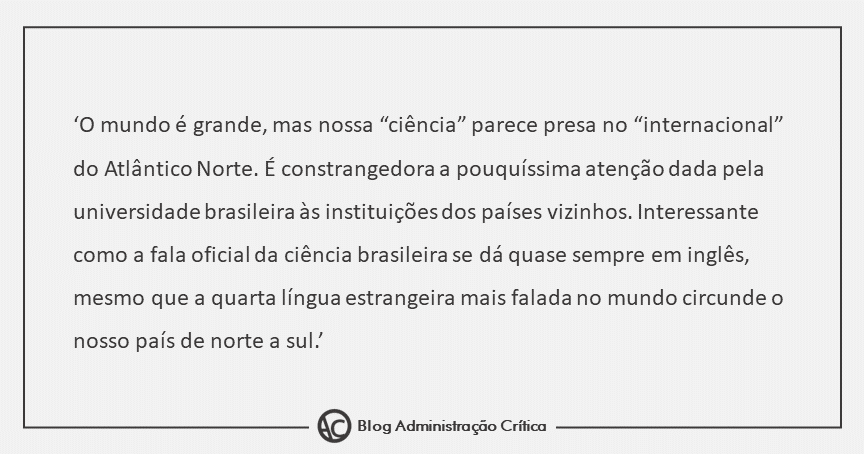
Descubra mais sobre Administração Crítica
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
